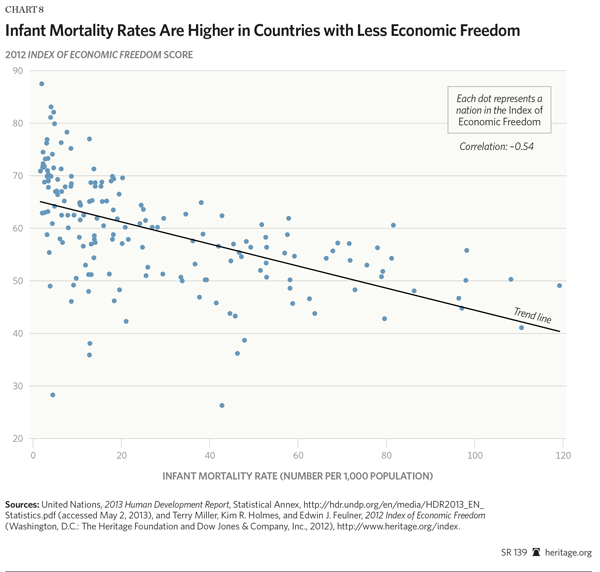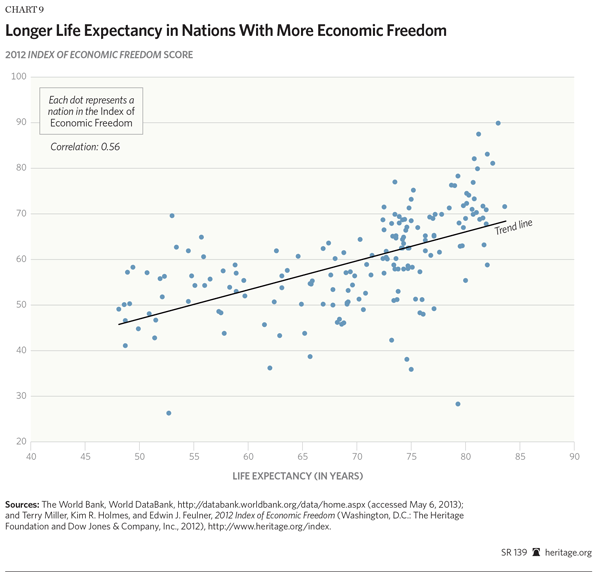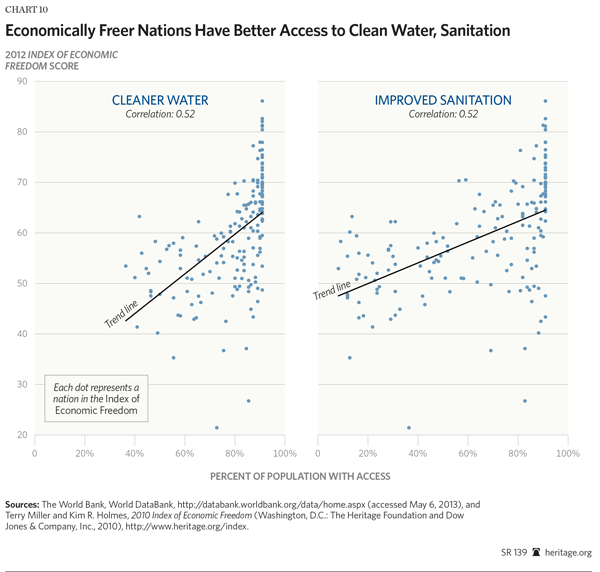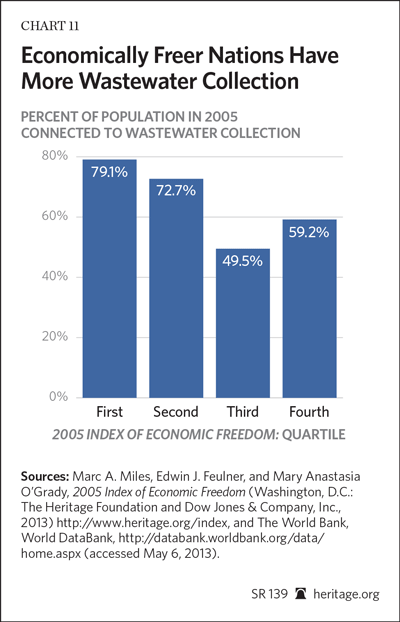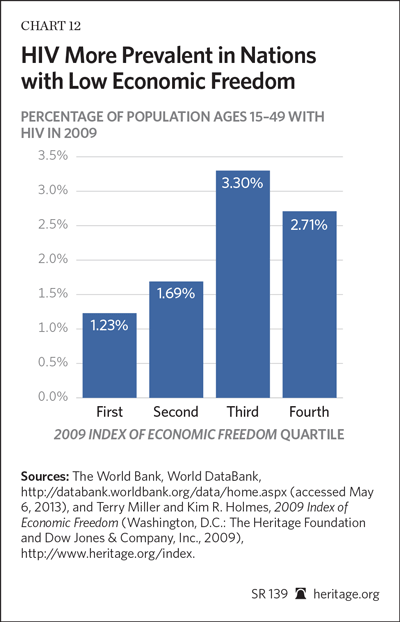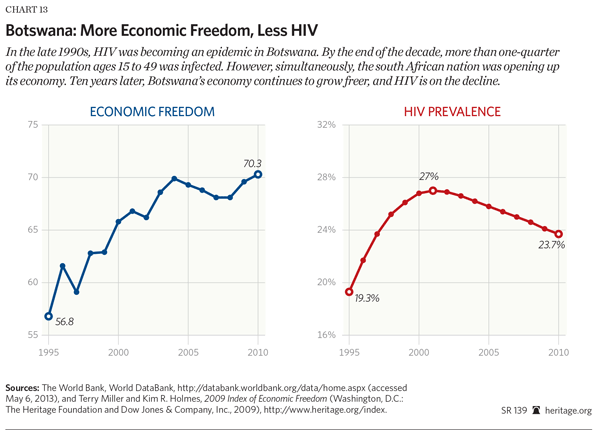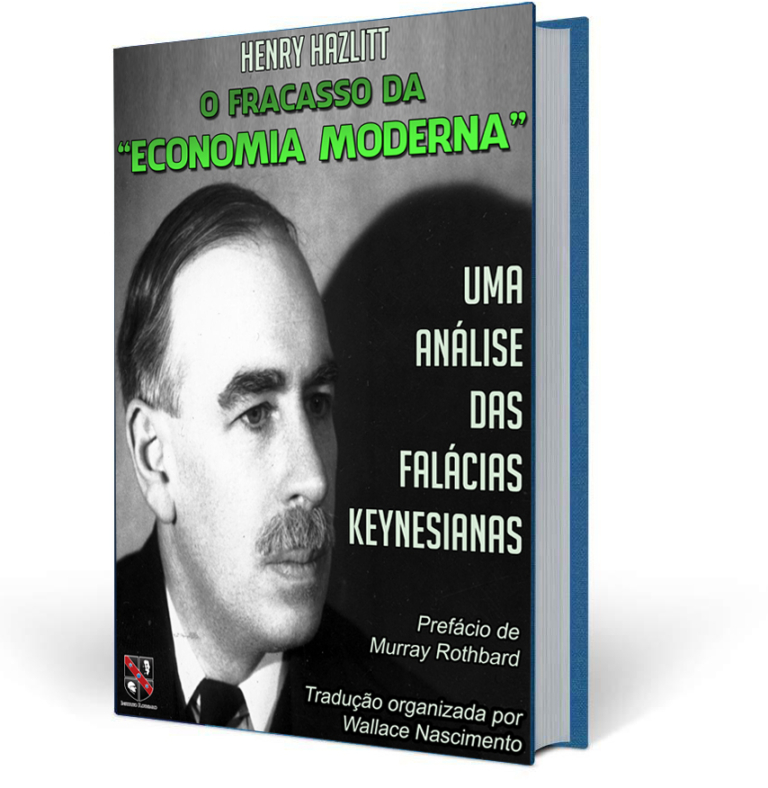Tenho três objetivos. Primeiro, quero esclarecer a natureza e a função da propriedade privada. Segundo, quero esclarecer a distinção entre “bens comuns” e propriedade e “bens públicos” e propriedade, e explicar o erro estrutural inerente à teoria dos bens públicos e da propriedade. Terceiro, quero explicar o argumento lógico e os princípios da privatização.
1. Preliminares teóricas
Começarei com algumas considerações teóricas e abstratas, porém fundamentais, sobre as causas dos conflitos e sobre o propósito das normas sociais.
Caso não houvesse conflitos interpessoais, não haveria a necessidade de normas. O propósito das normas é ajudar a evitar conflitos que normalmente seriam inevitáveis. Uma norma que gera conflito — em vez de ajudar a evitá-lo — é por definição contrária ao próprio propósito das normas; ou seja, trata-se de uma norma anômala ou uma deturpação.
Frequentemente se considera que os conflitos resultam do simples fato de diferentes pessoas terem diferentes interesses ou ideias. Mas isso é falso — ou, no mínimo, extremamente incompleto. O simples fato de indivíduos terem ideias e interesses diversos não significa que conflitos necessariamente surgirão. Eu quero que chova e meu vizinho quer que o sol brilhe. Nossos interesses são contrários. No entanto, como nem eu nem meu vizinho controla o sol ou as nuvens, nossos interesses divergentes não geram consequências práticas em termos de conflitos. Não há nada que possamos fazer quanto ao tempo.
Da mesma forma, eu posso acreditar que A gera B, e você pode acreditar que B é causado por C. Ou eu creio em Deus e faço orações, e você não. Se essa for toda a diferença que existe entre nós, nenhum conflito irá ocorrer. Interesses e crenças divergentes podem levar ao conflito somente quando são colocados em prática; somente quando nossos interesses e ideias são implementados em objetos fisicamente controlados — isto é, em bens econômicos ou em meios de ação.
Ainda assim, mesmo que nossos interesses e ideias sejam implementados em bens econômicos, nenhum conflito irá surgir enquanto nossos interesses e ideias estiverem relacionados exclusivamente a bens distintos (fisicamente separados). O conflito surge apenas quando interesses e crenças divergentes são implementados e investidos no mesmo e único bem. Em Cocanha, onde há uma superabundância de bens, nenhum conflito pode surgir (exceto conflitos relacionados à utilização de nossos corpos físicos que agregam nossos próprios interesses e ideias). Há uma abundância e um excesso de bens o suficiente para satisfazer os desejos de todos.
Para que interesses e ideias divergentes resultem em conflito, os bens devem ser escassos. Somente a escassez possibilita que interesses e ideias divergentes sejam aplicados e investidos no mesmo estoque de bens. Conflitos, portanto, são desavenças físicas relacionadas ao controle de um mesmo estoque de bens. As pessoas entram em desavenças porque querem utilizar os mesmos bens de maneiras distintas e incompatíveis.
Entretanto, mesmo sob condições de escassez, quando os conflitos são possíveis, eles não são necessariamente inevitáveis. Todos os conflitos relacionados ao uso de qualquer bem poderão ser evitados somente se cada bem for propriedade privada — isto é, somente quando o bem em questão for controlado exclusivamente por algum indivíduo ou grupo de indivíduos em específico, e sempre for deixado claro qual bem é propriedade de quem, e qual não é. Nessa situação, os interesses e as ideias de diferentes indivíduos podem ser totalmente divergentes; nenhum conflito surgirá enquanto os interesses e ideias destes indivíduos estiverem relacionados sempre e exclusivamente às suas próprias e distintas propriedades.
Para se evitar todos os tipos de conflitos, portanto, é necessário apenas haver uma norma relacionada à privatização de coisas (bens) escassas. Mais especificamente, se o intuito é evitar que haja conflitos desde o início da existência da humanidade, a norma necessária deve considerar a privatização original de bens (a primeira transformação original de “coisas” fornecidas pela natureza em “bens econômicos” e propriedade privada). Além disto, a privatização original de bens não pode ocorrer por meio de mera declaração verbal — isto é, pela simples elocução de palavras —, pois isso funcionaria (não levaria a conflitos permanentes e insolúveis) apenas se já existisse uma harmonia pré-estabelecida de interesses e ideias entre todas as pessoas. É claro que tal condição é contrária à nossa suposição inicial de que há ideias e interesses divergentes. Mais ainda: se tal harmonia de fato existisse, absolutamente nenhuma norma seria necessária!
Portanto, para evitar que haja aqueles conflitos que seriam inevitáveis em outros contextos, a privatização original de bens deve ocorrer por meio de ações: por meio de atos de apropriação original daquilo que anteriormente eram “coisas”. Somente por meio de ações, que ocorrem no tempo e no espaço, pode um elo objetivo ser estabelecido entre um indivíduo e um bem específico. (Um elo objetivo é um elo averiguável intersubjetivamente). E apenas o primeiro apropriador de algo até então sem dono pode adquirir esse algo sem haver conflito. Pois, por definição, sendo o primeiro apropriador, ele não pode entrar em conflito com outros indivíduos ao se apropriar do bem em questão, pois todas as outras pessoas apareceram somente depois de sua apropriação.
Todas as propriedades, portanto, devem ser retornadas, direta ou indiretamente, — ao longo de uma cadeia mutuamente benéfica (portanto, livre de conflitos) de transferências de títulos de propriedade — para seus apropriadores originais.
Com efeito, essa solução é irrefutavelmente — isto é, não hipoteticamente — verdadeira. Na ausência de uma harmonia pré-estabelecida entre todos os interesses individuais, somente a propriedade privada pode ajudar a evitar conflitos que de outra forma — sob condições de escassez — seriam inevitáveis. E somente o princípio da aquisição de propriedade por meio da apropriação original, ou por meio de transferências mutuamente benéficas de um proprietário anterior para um posterior, possibilita que os conflitos sejam evitados por completo — desde o início da humanidade até o final. Nenhuma outra solução existe. Qualquer outra regra seria contrária à natureza do homem como um agente racional.
Para concluir: mesmo sob condições de escassez geral é possível que pessoas com interesses e ideias divergentes possam coexistir pacificamente (sem conflito): basta que elas reconheçam a instituição da propriedade privada (ou seja, exclusiva) e sua fundamentação suprema, os atos de apropriação original.
2. Propriedade privada, bens comuns e propriedade pública
Avancemos agora da teoria para a prática, com aplicações. Suponhamos um pequeno vilarejo, com casas, jardins e campos, todos privados. Em princípio, todos os conflitos relacionados ao uso desses bens podem ser evitados, pois está claro nesse arranjo quem é o dono de cada casa, jardim e campo, bem como quem possui controle exclusivo sobre estes bens e quem não possui.
Porém, há uma rua “pública” que passa em frente às casas privadas, e uma trilha “pública” que passa através dos bosques que circundam o vilarejo e levam até um lago. Qual é a situação dessa rua e dessa trilha? Elas não são propriedade privada. Com efeito, assumimos que nenhum indivíduo alega ser o proprietário dessa rua ou dessa trilha. Sendo assim, a rua e a trilha fazem parte do ambiente natural em que todos agem. Todos utilizam a rua, mas ninguém é o proprietário dela; ninguém exerce controle exclusivo sobre sua utilização.
É concebível imaginar que essa situação — ruas públicas sem dono — possa continuar eternamente sem levar a qualquer tipo de conflito. Entretanto, isso não seria muito realista, pois seria necessário supor uma economia estacionária. Se houver crescimento econômico, e principalmente um crescimento populacional, conflitos relacionados à utilização da rua pública tendem a surgir e se intensificar. Embora inicialmente os “conflitos de rua” possam ser pouco frequentes e fáceis de serem evitados, de modo a não causar preocupações, com o tempo eles serão onipresentes e intoleráveis.
A rua agora está constantemente congestionada e em permanente mau estado de conservação. Uma solução é necessária. A rua deve deixar de ser considerada como pertencente à esfera do ambiente — “coisas” externas ou propriedade comum — e deve passar a ser considerada como um “bem econômico”. Isto, a crescente “economização” de coisas até então consideradas e tratadas como “bens gratuitos”, é a maneira como uma civilização progride.
Duas soluções para o problema de como gerenciar conflitos crescentemente relacionados ao uso de uma “propriedade comum” já foram propostas e tentadas. A primeira — e correta — solução é privatizar a rua. A segunda — e incorreta — solução é transformar a rua naquilo que hoje é chamado de “propriedade pública” (o que é muito diferente de sua classificação anterior, “bem comum” e sem dono). Por que a segunda solução é incorreta ou problemática é algo que pode ser melhor entendido se fizermos uma comparação com sua alternativa, a privatização.
Como é possível que ruas até então sem dono sejam privatizadas sem gerar conflitos? A resposta sucinta é que isso pode ser feito desde que a apropriação da rua não viole os direitos previamente estabelecidos dos outros proprietários de utilizar essa rua “gratuitamente” (em termos jurídicos, mitigação ou servidão). Todos os indivíduos devem continuar tendo a liberdade de andar pela rua para ir de uma casa à outra, andar pelo bosque e ir até o lago, assim como antes. Todos devem continuar com seu direito de passagem. Desta forma, ninguém pode alegar ter ficado em pior situação com a privatização da rua.
Em termos práticos, o apropriador — com o intuito de materializar e validar a sua declaração de que a rua até então de todos agora é privada, e que ele (e ninguém mais) é o proprietário dela —, seja ele quem for, deve realizar algumas manutenções e trabalhos de reparo ao longo de toda a rua. Ato contínuo, sendo agora o proprietário, ele — e ninguém mais — pode desenvolver e aperfeiçoar a rua da maneira como achar melhor. Ele determina as regras e regulamentações relacionadas ao uso da sua rua de modo a evitar todos os tipos de conflito. Ele pode, por exemplo, construir uma barraca de cachorro-quente na rua, e proibir que outros façam o mesmo; ou ele pode cobrar taxas para fazer a coleta do lixo. Em relação a forasteiros, o proprietário da rua pode determinar regras de entrada para estranhos não convidados. Último, mas não menos importante, sendo o proprietário da rua, ele pode vendê-la para qualquer outra pessoa (com todos os direitos de passagem previamente estabelecidos permanecendo intactos).
Em tudo isso, haver uma privatização é mais importante do que especular qual forma específica ela irá assumir. Dentro do espectro das formas possíveis de privatização, em uma extremidade podemos imaginar um proprietário único. Um rico morador desse vilarejo, por exemplo, tomou para si a responsabilidade de preservar e restaurar a rua, tornando-se assim seu proprietário. Na outra extremidade do espectro, podemos imaginar que o reparo ou a manutenção original da rua foi o resultado de um genuíno esforço comunitário. Nesse caso, não há apenas um proprietário da rua; todos os membros da comunidade serão (inicialmente) seus co-proprietários.
Na ausência de uma harmonia pré-estabelecida de todos os interesses e ideias, esse arranjo de co-propriedade requer um mecanismo de tomada de decisão em relação a como será o desenvolvimento futuro da rua. Suponhamos que, assim como ocorre em uma empresa de capital aberto, a maioria dos proprietários da rua é quem determina o que fazer e o que não fazer com ela. Aparentemente, esse tipo de arranjo — decisão majoritária — tende a gerar conflito, mas não é o que ocorre nesse caso. Qualquer proprietário que estiver insatisfeito com as decisões tomadas pela maioria dos proprietários, e que crer que o ônus colocado sobre ele pela maioria supera os benefícios que ele pode extrair de sua propriedade (parcial) da rua, sempre poderá a qualquer momento sair do arranjo. Ele pode vender sua quota (participação acionária) de propriedade da rua para outra pessoa, abrindo assim a possibilidade para que haja uma concentração de títulos de propriedade em apenas uma mão, porém mantendo seu direito de passagem original.
Contrastando com esse arranjo, um tipo bastante diferente de propriedade de rua é criado quando a opção de saída não existe — ou seja, quando um indivíduo não tem a permissão de vender sua quota de propriedade da rua ou quando ele é destituído de seu antigo direito de passagem.
Tal situação, entretanto, é justamente a que define e caracteriza o segundo tipo de propriedade, a propriedade “pública”. A rua pública — no moderno sentido da palavra “pública” — não é um bem sem dono, como era antes. Existe de fato um proprietário da rua — seja ele um indivíduo, um rei ou um governo democraticamente eleito — que possui poder de decisão exclusivo para criar regras de tráfego e para determinar o desenvolvimento futuro da rua.
Mas o governo da rua não permite que seus eleitores — ou seja, os indivíduos —, os quais supostamente são os co-proprietários da rua, com direitos de propriedade iguais, vendam sua quota de propriedade (tornando-os assim proprietários compulsórios de algo do qual eles podem preferir se desfazer). O governo não permite que os residentes do vilarejo tenham acesso irrestrito à rua que até então era gratuita; ao contrário, ele condiciona o uso dela ao pagamento de alguma taxa ou contribuição (transformando assim os residentes do vilarejo em proprietários compulsórios da rua caso queiram continuar utilizando-a como antes).
Os resultados desse arranjo são previsíveis. Ao negar a opção de “saída”, o proprietário da rua “pública” adquiriu um domínio, um controle total sobre a população do vilarejo. Consequentemente, as taxas e outras condições impostas sobre os residentes do vilarejo para que estes possam continuar utilizando a rua outrora “gratuita” tenderão a se tornar cada vez mais opressivas.
Os conflitos não serão evitados; muito pelo contrário, eles serão institucionalizados. Dado que não existe a opção de sair desse arranjo — isto é, dado que os usuários das ruas públicas devem agora pagar por aquilo que antes utilizavam gratuitamente, e dado que nenhum residente pode vender e se livrar de sua suposta quota de propriedade da rua, tendo de permanecer continuamente vinculado às decisões tomadas pelo governo da rua —, os conflitos relacionados à utilização, manutenção e desenvolvimento da rua tornar-se-ão permanentes e generalizados.
Pior ainda, com o advento das ruas “públicas”, conflitos são introduzidos também em áreas onde até então ele não existia. Os proprietários das casas, jardins e campos ao longo da rua terão agora de pagar contribuições para o dono da rua para que possam continuar fazendo o que vinham fazendo até então. Ou seja, se eles agora têm de pagar impostos para o dono da rua, então, por uma questão de lógica, o dono da rua com isso adquiriu o controle de suas propriedades. Um proprietário agora deixou de ter o controle exclusivo sobre o uso de sua própria casa.
Mais especificamente, o dono da rua pode interferir nas decisões que o proprietário de uma casa toma a respeito de sua própria casa. Ele pode dizer ao proprietário da casa o que este pode ou não fazer com sua casa caso ele queira sair dela ou entrar nela. Isto é, o dono da rua pública está em uma posição em que ele pode limitar, e em última instância até mesmo eliminar — isto é, expropriar — toda a propriedade privada e todos os direitos de propriedade, fazendo assim com que os conflitos sejam inevitáveis e generalizados.
3. A lógica da privatização
Já deve estar claro por que a instituição da propriedade pública é anômala e disfuncional. As instituições e as normas que lhes sustentam devem supostamente ajudar a evitar conflitos. Porém, a instituição da propriedade “pública” — de ruas “públicas” — cria e intensifica conflitos. Portanto, com o propósito de evitar conflitos — ou seja, com o propósito de estimular a pacífica cooperação humana —, todas as propriedades públicas devem ser abolidas. Todas as propriedades públicas devem se tornar propriedade privada.
Mas como privatizar no “mundo real”, o qual se expandiu para muito além do simples modelo de vilarejo considerado até agora? Nesse “mundo real” temos não apenas ruas públicas, mas também parques, rios, lagos, terras, praias, edifícios, escolas, universidades, hospitais, casernas, aeroportos, portos, livrarias, museus, monumentos e muito mais.
Adicionalmente, acima dos governos municipais, há uma hierarquia de governos centrais — sejam eles províncias “superiores” ou, em última instância, governos nacionais “supremos” — que são os proprietários de tais bens. Ademais, como esperado, paralelamente à extensão e à expansão do território pertencente ao estado, o qual tornou-se o proprietário dos bens públicos, e dentro do qual os donos de propriedade tornaram-se meros reféns, sem a opção de saída, a variedade de escolhas que sobrou para as pessoas fazerem a respeito de como utilizarem sua propriedade privada tem sido crescentemente limitada e até mesmo reduzida. Restou um âmbito pequeno e cada vez menor dentro do qual os indivíduos proprietários ainda podem tomar decisões livremente — isto é, livres de uma possível intrusão ou da interferência de alguma autoridade pública.
Nem mesmo dentro das quatro paredes da própria casa o indivíduo pode mais ser livre e exercitar o exclusivo controle sobre sua própria propriedade. Hoje, em nome do bem público e na autointitulada condição de dono de todos os “bens públicos”, os governos podem invadir sua casa, confiscar parte ou a totalidade de seus pertences, e até mesmo seqüestrar seus filhos.
Obviamente, no “mundo real”, a questão de como privatizar é mais difícil do que no simples modelo do vilarejo. Porém, o modelo do vilarejo, em conjunto com uma teoria social elementar, pode nos ajudar a reconhecer qual o princípio (se não todos os detalhes complicados) que existe e que deve ser aplicado nessa tarefa. A privatização de bens “públicos” deve ocorrer de uma maneira que não infrinja os direitos pré-estabelecidos dos donos de propriedade privada (da mesma maneira que o primeiro apropriador de uma rua comum até então sem dono não infringiu os direitos de terceiros caso tenha reconhecido e respeitado o irrestrito direito de passagem de cada residente).
Como as ruas “públicas” foram a base da qual surgiram todos os outros “bens públicos”, o processo de privatização deve começar com as ruas. Foi com a transformação das até então ruas comuns em ruas “públicas”, que a expansão da esfera dos bens públicos e dos poderes do estado começou; e é nelas, portanto, que deve começar a solução.
A privatização das ruas “públicas” gera um resultado duplo. De um lado, nenhum residente será, dali em diante, forçado a pagar qualquer imposto para a manutenção ou criação de qualquer outra rua, local, provincial ou federal. O financiamento futuro de todas as ruas será responsabilidade exclusivamente de seus novos proprietários (quem quer que eles sejam). Por outro lado, no que diz respeito aos direitos de passagem de um residente, a privatização não deve deixar ninguém em situação pior do que estava originalmente (ao passo em que também não pode deixar ninguém em situação melhor).
Originalmente, todos os residentes do vilarejo podiam andar livremente pela rua local que passava por sua propriedade, e podiam se locomover de maneira igualmente livre desde sua casa, contanto que as coisas ao seu redor fossem sem dono. Entretanto, se, durante suas excursões, um indivíduo se deparasse com algo que visivelmente fosse propriedade de alguém — seja uma casa, um campo ou uma rua —, sua entrada estaria condicionada à permissão ou ao convite do proprietário. Da mesma forma, se um estrangeiro não residente chegasse a uma rua local, sua entrada nesta rua estaria sujeita à permissão do seu proprietário (doméstico). O estrangeiro teria de ser convidado por algum residente para sua propriedade. Ou seja, as pessoas podiam se deslocar, mas ninguém possuía um totalmente irrestrito direito de passagem. Ninguém era livre para se deslocar para qualquer lugar sem jamais pedir a permissão de alguém ou sem ser convidado. A privatização de ruas não pode alterar esse fato e remover tais restrições, naturais e originais, à “liberdade de ir e vir”.
Aplicando-se ao mundo das ruas locais, provinciais e federais, isso significa que, como resultado da privatização de ruas, cada residente deve ter a permissão de se deslocar livremente em cada rua ou estrada local, provincial ou federal, como antes. Entretanto, a entrada nas ruas de diferentes estados ou províncias, e especialmente de diferentes localidades, não é igualmente livre, mas dependente da permissão ou convite dos proprietários de tais ruas. As ruas locais sempre — praxeologicamente — precedem quaisquer ruas interlocais (ruas que fazem a ligação de um local a outro), o que significa que a entrada em diferentes localidades nunca foi livre, mas sim, sempre e em qualquer lugar, dependente da permissão ou do convite dos residentes locais. Esse fato original é restabelecido e reforçado com as ruas privatizadas.
Atualmente, nas ruas “públicas”, onde todo mundo essencialmente tem a permissão de ir para todo e qualquer lugar, sem absolutamente qualquer tipo de restrição “discriminatória” de acesso, o conflito na forma de “integração forçada” — isto é, de ter de aceitar estranhos não convidados em seu meio e em sua propriedade — tornou-se onipresente.
Em distinto contraste, estando cada rua — particularmente cada rua local — privatizada, as vizinhanças e comunidades readquirem seus direitos originais de exclusão, o qual é um elemento definidor da propriedade privada (assim como o é o direito de inclusão, isto é, o direito de convidar alguém para a sua propriedade). Ao passo que os proprietários das ruas da vizinhança e da comunidade não estão infringindo o direito de passagem ou o direito de convidar de qualquer residente, eles podem estabelecer os requisitos de entrada para estrangeiros não convidados às suas ruas, impedido assim o fenômeno da integração forçada.
Entretanto, quem são os proprietários das ruas? Quem pode reivindicar e validar sua reivindicação de que ele é o dono das ruas locais, provinciais ou federais? Afinal, essas ruas não são o resultado de algum tipo de esforço comunitário, tampouco são o resultado do trabalho de alguma pessoa ou de algum grupo de pessoas claramente identificável.
É verdade, em termos literais, que foram operários que construíram as ruas. Porém, isso não faz deles os donos das ruas porque eles foram pagos para fazer seu trabalho. E sem financiamento, não haveria rua. Entretanto, os fundos pagos a esses operários são o resultado do pagamento de impostos feito por vários cidadãos. Consequentemente, as ruas devem ser consideradas como propriedade desses pagadores de impostos. Os antigos pagadores de impostos, de acordo com a quantidade de impostos local, estadual e federal que pagaram, deverão ser recompensados com títulos de propriedade sobre as ruas locais, estaduais e federais, títulos esses totalmente comercializáveis. Eles podem manter esses títulos como um investimento, ou podem se desfazer deles, vendendo-os, ao mesmo tempo em que seguem mantendo seu irrestrito direito de passagem.
A mesma lógica deve ser aplicada à privatização de todos os outros bens públicos, como escolas, hospitais etc. Como resultado, todos os impostos que são atualmente pagos para a manutenção e operação de tais bens devem ser abolidos. O financiamento e o desenvolvimento de escolas, hospitais etc. será, doravante, responsabilidade exclusiva de seus novos proprietários privados. Da mesma forma, os novos proprietários desses bens outrora “públicos” serão aqueles residentes que realmente os financiaram. Eles, de acordo com a quantidade de impostos que pagaram, deverão ser recompensados com títulos de propriedade, plenamente comercializáveis, sobre as escolas, hospitais etc.
Diferentemente do que ocorre com as ruas, entretanto, os novos proprietários de escolas e hospitais não terão nenhuma obrigação de fornecer direitos de passagem (ou qualquer tipo de servidão) no uso futuro de sua propriedade. Escolas e hospitais, diferentemente das ruas, não eram bens comuns antes de se transformarem em bens “públicos”. Escolas e hospitais simplesmente não existiam anteriormente como bens — isto é, até elas terem sido de fato produzidas; logo, ninguém (exceto os produtores) pode ter adquirido previamente algum direito de passagem relacionado ao seu uso.
Consequentemente, os novos proprietários privados de escolas, hospitais etc. terão plena liberdade para determinar os requisitos de entrada em suas propriedades e determinar se querem que essas propriedades continuem operando como escolas e hospitais ou se preferem utilizá-las para outros propósitos.
Adendo
Privatização: princípio e aplicações
A única solução efetiva para o problema do conflito — isto é, a única regra ou norma que pode assegurar que não haja conflitos desde o início da humanidade em diante, e que produza “paz eterna” — é a instituição da propriedade privada, baseada supremamente em atos de apropriação original de recursos previamente sem donos ou “comuns”. Em contraste, a instituição da propriedade pública já começa com conflito, isto é, com um ato de expropriação original de alguma propriedade até então privada (ao invés da apropriação de bens previamente sem dono); e a propriedade pública não acaba com conflitos ou expropriações, mas, sim, os institucionaliza e os torna permanentes.
Donde surge o imperativo da privatização — e por conseguinte o princípio da restituição, isto é, a noção de que a propriedade pública seja retornada como propriedade privada para aqueles de quem ela foi forçadamente confiscada. Ou seja, bens públicos devem se tornar a propriedade privada daquelas que financiaram esses bens e que podem estabelecer uma reivindicação objetiva — averiguável intersubjetivamente — com esse objetivo.
Aplicar esse princípio para o mundo atual é normalmente complicado e requer um considerável esforço jurídico. Irei aqui apenas considerar três casos realistas de privatização com o intuito de abordar algumas questões e decisões centrais.
O primeiro caso, cujo exemplo prático que mais se aproxima dele é o da antiga União Soviética, é o de uma sociedade em que absolutamente toda propriedade é propriedade pública, administrada pelo estado. Cada indivíduo é empregado do estado e trabalha em burocracias, empresas, fábricas e lojas estatais; e todas as pessoas se locomovem e moram em terrenos públicos e em imóveis estatais. Não há propriedade privada, exceto para bens de consumo imediato, e para objetos pessoais como roupas íntimas, escova de dente etc. Ademais, todos os arquivos com o passado das pessoas sumiram ou foram destruídos, de modo que ninguém, com base nesses arquivos, pode comprovar alguma reivindicação sobre qualquer parte identificável de alguma propriedade pública.
Nesse caso, o princípio de que cada reivindicação sobre propriedade pública deve ser baseada em “dados” objetivos e intersubjetivamente averiguáveis faria com que os títulos de propriedade (comercializáveis) fossem distribuídos de acordo com a ocupação atual ou passada dos indivíduos: os escritórios vão para os burocratas que os ocupam; as fábricas, para os operários; os campos, para os agricultores; e os imóveis, para seus residentes. Trabalhadores aposentados recebem títulos de propriedade sobre seus antigos locais de trabalho de acordo com a duração de seus empregos. Como ocupantes presentes ou passados da propriedade em questão, apenas eles possuem um elo objetivo a essa propriedade. Foram eles que mantiveram a propriedade como ela é, ao passo que os outros estavam trabalhando em outros empregos públicos.
Todo o resto, isto é, toda a propriedade pública que não esteja presentemente ocupada e que não seja mantida por ninguém (por exemplo, qualquer espaço aberto) se torna propriedade “comum” e passa a ficar aberta para todos os membros da sociedade para ser privatizada por meio da apropriação original.
Essa solução, entretanto, ainda deixa de fora uma questão importante. Todos os documentos legais presumivelmente foram perdidos. Porém, as pessoas não perderam suas memórias. Elas ainda se lembram dos crimes passados. Elas foram vítimas e testemunhas de atos de homicídio, agressão, tortura e aprisionamento. O que fazer com aqueles que cometeram esses crimes, que os ordenaram ou praticaram, ou que cooperaram com sua execução?
Deveriam os torturadores da polícia secreta e a toda a nomenklatura comunista, por exemplo, ser incluída nesse esquema de privatização e se tornar proprietários privados das delegacias de polícia e dos palácios governamentais onde eles planejaram e ministraram seus crimes? A justiça requer, ao contrário, que cada delinquente criminal seja levado a julgamento pelas suas supostas vítimas e, caso seja sentenciado e condenado, não apenas seja excluído do processo de obtenção de absolutamente qualquer propriedade pública, mas também sofra a mais dura das punições.
O segundo caso difere desse primeiro apenas em um aspecto: o passado legal não foi apagado. Documentos e arquivos ainda existem para comprovar as expropriações passadas e, baseando-se em tais documentos, pessoas específicas podem reivindicar objetivamente pedaços específicos de propriedade pública. Essencialmente, essa foi a situação dos antigos estados vassalos da União Soviética, como Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, polônia etc., onde a tomada de poder comunista havia ocorrido somente uns 40 anos antes — ou seja, apenas uma geração antes (a não há mais de 70 anos, como ocorreu na União Soviética).
Nesse caso, os proprietários originais que foram expropriados, ou os seus herdeiros legais, devem ser imediatamente reconhecidos como os genuínos proprietários da propriedade pública em questão. Porém, o que fazer quanto aos aprimoramentos de capital que ocorreram? Mais especificamente, o que fazer quanto às novas estruturas (casas e fábricas) — as quais deveriam se tornar, como discutido acima, propriedade de seus ocupantes presentes e passados — que foram construídas em um terreno devolvido ao proprietário original desse terreno? Quantos títulos de propriedade o dono do terreno deverá receber e quantos títulos deverão receber os donos da estrutura construída? Estrutura e terreno não podem ser fisicamente separados. Em termos de teoria econômica, eles são fatores de produção complementares e absolutamente específicos, cuja contribuição relativa ao valor conjunto de toda a área não pode ser separado. Nesse caso, a única alternativa possível para ambos os lados da contenda é negociar.
O terceiro caso é aquele que ocorre nas atuais economias mistas — isto é, nas sociais-democracias. Nestas sociedades, um setor público existe lado a lado com um setor nominalmente privado. Existem bens públicos e funcionários públicos trabalhando junto às propriedades nominalmente privadas e aos proprietários e empregados de empresas privadas. Tipicamente, os funcionários públicos que administram propriedade pública não produzem bens ou serviços que sejam vendidos no mercado. (Para o caso atípico de empresas estatais que produzem valor, veja abaixo).
Sua receita de vendas e sua renda de mercado são zero. Seus salários e todos os outros custos presentes na operação de bens públicos são, na realidade, pagos por terceiros. Esses terceiros são os proprietários e os empregados das empresas privadas. Empresas privadas e seus empregados, contrariamente aos seus equivalentes do setor público, produzem bens e serviços que são vendidos no mercado e, com isso, geram renda. Dessa renda, as empresas privadas não apenas pagam os salários de seus próprios empregados e custeiam a manutenção de sua própria propriedade, como também pagam — por meio de impostos sobre a renda e sobre a propriedade — os salários (líquidos) de todos os funcionários públicos, bem como os custos de operação de todas as propriedades públicas.
Nesse caso, o princípio de que a propriedade pública deve ser devolvida como propriedade privada para aqueles que realmente a financiaram significa que os títulos de propriedade devem ser transferidos exclusivamente para produtores, donos e empregados privados de acordo com o volume de impostos sobre a renda e sobre a propriedade que eles pagaram no passado. Todos os funcionários públicos devem ser excluídos desse processo. Todas as instalações, escritórios e palácios governamentais, por exemplo, teriam de ser liberados por seus atuais ocupantes. Os salários do setor público só podiam ser pagos por meio dos impostos que confiscavam a renda dos proprietários das empresas privadas e de seus empregados. Mais ainda: o setor público só existe por causa desse confisco. Logo, ao passo que os funcionários públicos podem manter a propriedade privada que adquiriram, eles não têm direito algum de reivindicar a propriedade pública que utilizaram e administraram.
(Tal arranjo seria diferente apenas para o caso atípico de uma empresa pública, como uma estatal fabricante de carros, que produzisse bens e serviços vendidos no mercado, e que com isso ganhasse uma renda de mercado. Nesse caso, os funcionários públicos poderiam fazer um reivindicação legítima de propriedade, dependendo das circunstâncias. Eles poderiam reivindicar a propriedade completa da fábrica somente caso não exista um proprietário anterior do terreno que tenha sido expropriado e também caso a fábrica jamais tenha recebido subsídios oriundos de impostos. Caso exista um proprietário anterior que tenha sido expropriado, então os empregados dessa fábrica estatal podem no máximo reivindicar propriedade parcial sobre ela, e devem, para isso, barganhar com o proprietário sua fatia relativa nos títulos de propriedade. Caso a fábrica tenha recebido subsídios oriundos de impostos, os trabalhadores da fábrica terão de dividir adicionalmente sua fatia nos títulos de propriedade — de acordo com a quantidade de subsídios recebidos — com os empregados do setor privado, os quais pagaram os impostos de onde vieram os subsídios.)
Simultaneamente, com a privatização de todas as propriedades públicas, todas as propriedades nominalmente privadas deverão ser tratadas como propriedade privada genuína. Isto é, todas as propriedades nominalmente privadas deverão ser liberadas de todos os impostos sobre propriedade ou sobre a renda, bem como de todas as legislações que restringem seu uso (ao passo que todos os acordos previamente concluídos acerca do uso de propriedade entre agentes privados permanecem em vigor).
Sem impostos, portanto, não há gastos governamentais, e sem gastos governamentais todos os funcionários públicos ficarão sem salários e, consequentemente, terão de procurar empregos produtivos com os quais ganhar dinheiro. Do mesmo modo, todos aqueles que recebem auxílios e subsídios do governo, bem como aqueles empresários que recebem ordens de compra do governo, verão sua renda ser reduzida ou desaparecer por completo, tendo assim de procurar alternativas de vida.
Essa solução ainda não resolve uma questão importante. Uma vez que todos os pagadores de impostos (em termos líquidos) já receberam seu número apropriado de títulos sobre as propriedades públicas, como eles irão de fato se apossar dessas propriedades e exercer seus direitos como proprietários privados dessas propriedades? Mesmo que exista um inventário de todas as propriedades públicas, a maioria das pessoas não possui a mínima ideia de tudo aquilo de que elas agora são (parcialmente) donas. A maioria tem uma ideia razoável das propriedades públicas locais, mas a respeito das propriedades públicas situadas em outros locais distantes elas não sabem praticamente nada, exceto talvez sobre alguns poucos “monumentos nacionais”.
É praticamente impossível fazer uma avaliação realista do preço “correto” de todas as propriedades públicas e, logo, do preço “correto” de uma ação individual dessas propriedades. Consequentemente, os preços exigidos e pagos por tais ações seriam totalmente indeterminados e amplamente flutuantes e divergentes, ao menos inicialmente. Avaliá-los seria extremamente difícil e bastante demorado até que algum investidor ou grupo de investidores comprasse a maioria de todas as ações a fim de começar a operar ou a vender partes de sua propriedade para ganhar algum retorno sobre seu investimento.
Essa dificuldade, entretanto, pode ser superada ao invocarmos novamente a ideia da apropriação original. Os títulos nas mãos nos pagadores líquidos de impostos não são apenas tickets comercializáveis; ainda mais importante, eles autorizam seus proprietários a retomar a posse de propriedades previamente públicas e que agora estão desocupadas. A propriedade pública está aberta à apropriação original, e os tickets representam títulos sobre propriedades públicas desocupadas e momentaneamente sem dono. Qualquer pessoa, portanto, pode pegar seus títulos sobre pedaços específicos de propriedade pública e registrar-se como seu proprietário.
Dado que o primeiro indivíduo a se registrar dono de um pedaço específico de propriedade seria seu proprietário original, é certo que todos os pedaços de propriedade pública passariam quase que imediatamente a ter proprietários definidos. Mais especificamente, a maioria das propriedades públicas tornar-se-ia, ao menos inicialmente, propriedade privada dos residentes locais, isto é, de pessoas que morassem próximas a um dado pedaço de propriedade pública e que estivessem mais bem informadas sobre seu potencial valor de produtividade.
Ademais, dado que o valor da ação de cada propriedade decresce à medida que mais portadores de tickets se registram como donos de uma fatia dessa mesma propriedade pública, qualquer registro em excesso ou em quantidade insuficiente para determinadas propriedades seria evitado ou rapidamente corrigido. Consequentemente, cada pedaço de propriedade seria rapidamente avaliado realisticamente de acordo com o valor da sua produtividade.
Escritor: Hans-Hermann Hoppe
Fonte: Instituto Mises